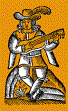|
|
Nogueira, Carlos. “Do conto popular e da
lenda à literatura para crianças e jovens. A propósito de Diabos,
Diabritos e Outros Mafarricos, de Alexandre Parafita”.
Culturas Populares. Revista Electrónica 7 (julio-diciembre 2008). http://www.culturaspopulares.org/textos7/articulos/nogueira1.htm ISSN: 1886-5623 |
Do conto popular e da lenda à
literatura para crianças e jovens.
A propósito de Diabos, Diabritos
e Outros Mafarricos,
de Alexandre Parafita
Carlos Nogueira
Centro de Tradições
Populares Portuguesas
Universidade de Lisboa
Resumo
No conto popular
português, o ciclo do diabo é sem dúvida um dos mais estimulantes e porventura
o mais conhecido dos ciclos do corpus nacional e dos corpora do Ocidente. Poder-se-á mesmo afirmar que este
conjunto textual interessa a todas as classes sociais e faixas etárias, a todo
o ser português, que, não
raro e de diversos modos, se institui enquanto sujeito através da sua relação
com o diabo, nas suas
múltiplas e imprevistas formas.
Palavras-chave: conto popular, diablo, Portugal, Alexandre
Parafita.
Abstract
Portuguese
folktales about the devil constitute a widely known corpus both in Portugal and beyond its’ frontiers.
This
group of texts is important for all social classes and for people of all ages,
because the relationship with the devil in it's multiple and unexpected shapes
is a way of building the Portuguese identity.
Keywords: folktale, devil, Portugal, Alexandre
Parafita.
Conta-se que um dia o diabo foi ter com um
lavrador e propôs-lhe fazerem uma sementeira a meias. O lavrador, como lhe
fazia jeito dividir os encargos, aceitou.
– E
que semeamos? – perguntou.
– O
que for melhor – disse o diabo.
–
Que tal semearmos um campo de batatas?... – avançou o lavrador.
–
Pois que seja – concordou o sócio.
Meteram
então ombros ao negócio. O diabo entrou com as sementes, os adubos, os
pesticidas, e o lavrador entrou com o trabalho. Foram dias, semanas, meses, a
sachar, a regar, a pulverizar... e, por fim, o batatal cobriu de verde toda a
planura do campo. Ficou um autêntico regalo para os olhos. A colheita
adivinhava-se da melhor.
Entretanto,
ao aparecer para a colheita, o diabo ficou de tal modo deslumbrado com tanta
verdura que logo procurou arranjar maneira de ficar com a melhor parte. Propôs
então ao lavrador:
–
Vamos fazer a divisão da seguinte forma: eu fico com a parte do batatal que
está para cima da terra e tu ficas com a parte que está para baixo.
O
lavrador nem pestanejou. Aceitou logo.
– Se
é assim que queres, assim seja!
Já
se está a ver. Ficou o lavrador com as batatas e o outro com a rama.
No
ano seguinte, apareceu de novo o diabo ao lavrador a propor que voltassem a
fazer uma sementeira a meias.
– E
que semeamos? – perguntou o lavrador.
– O que for melhor – disse o diabo.
– Batatas, não, que ainda as tenho do ano passado. Que
tal semearmos um campo de trigo?
–
Pois que seja – concordou o sócio.
Reataram
então o negócio.
O
diabo entrou com as sementes e o lavrador com o trabalho. Chegada a altura da
colheita, lá estava a seara – e que bela! – a ondular ao ritmo da brisa mansa
do Estio. Veio então o diabo para as partilhas e diz ao lavrador:
– Da
última vez não me correu bem o negócio que fiz contigo. Por isso, ficas tu
agora com a parte do cereal que está por cima da terra e eu fico com a parte
que está por baixo!
O
lavrador aceitou. É claro. Ficou ele com o grão e o outro com as raízes. Quando
deu conta da asneira que fez – dizem –, o diabo fartou-se de dar guinchos e
pinotes. E daí em diante já não quis mais sociedades com o lavrador.
Alexandre Parafita, “O diabo e o lavrador”, in Diabos,
Diabritos e Outros Mafarricos,
Lisboa, Texto Editora, 2003.
|
N |
o
conto popular português, o ciclo do diabo é sem dúvida um dos mais estimulantes
e porventura o mais conhecido dos ciclos do corpus
nacional e dos corpora do Ocidente. Poder-se-á
mesmo afirmar que este conjunto textual interessa a todas as classes sociais e
faixas etárias, a todo o ser português (e não só),
que, não raro e de diversos modos, se institui enquanto sujeito através da sua
relação com o diabo, nas suas múltiplas e
imprevistas formas. Neste grupo de contos populares, o “anti-sujeito é o diabo,
figura arquetípica da manha – assim como a mulher o é no plano antropomórfico,
e a raposa, o polvo, a serpente e o lobo o são no plano zoomórfico –, e o
sujeito é um homem simples e popular que, ao contrário do doutor Fausto, sabe
resistir às tentações diabólicas”[1].
Alexandre
Parafita, na obra Diabos, Diabritos e Outros Mafarricos, selecciona dez narrativas que ele próprio recolheu da tradição oral
de Trás-os-Montes e reconta-as em versões cuja linguagem se inscreve num
paradigma de oralidade arquetípica; uma oralidade que transporta as marcas quer
do colectivo quer do contador que ordena o discurso e a história, investindo o
novo texto de elementos – linguísticos, retóricos, psíquicos e sociais – que
decorrem de uma relação pessoal entre ele e todos os materiais implicados na
construção textual. O enunciador do texto escrito pertence a uma genealogia
ilustre de intérpretes-autores cujos nomes são revelados, “com a devida
homenagem”, no “Painel de contadores” que fecha o livro. A voz de cada um deles
é, pois, de certo modo, perpetuada na voz de uma entidade, inscrita no papel,
que dá ao relato um espaço de eternidade. A oralidade que o texto de Alexandre Parafita propõe, síntese de uma pluralidade de
vozes, é por isso veraz e verosímil, original e já ouvida, como todos os textos
tradicionais. A cada leitor compete partir dessa oralidade da escrita que é igualmente uma escrita da oralidade.
Nestes
contos e nestas lendas encontramos histórias de diabos e seres afins que,
nalguns casos, vivem um inferno que não é o da sua
essência enquanto seres malditos e diabólicos. Na disputa com o português
supostamente ingénuo ou indefeso, o diabo, figura maior dessa legião de
demónios que quer seduzir e escravizar o Homem, não consegue usar com sucesso
os seus conhecimentos malignos e vê-se não só derrotado como ridicularizado. O
poder destes textos vem precisamente, em larga medida, da insubordinação que
significa ridicularizar o diabo, impondo-lhe o espectáculo do riso que o
degrada e assegura ao receptor uma superioridade que não só desvia ou distrai o
espírito como constitui uma medicina e uma força socializadora. O cómico destas
narrativas, enquanto série de constituintes de um todo em processo, é elemento
vital tanto da criação como da identidade do texto; e é exactamente essa
qualidade cómica da expressão, do contexto diegético e/ou do perfil psicológico
e comportamental das personagens o que dá solidez à estrutura profunda comum a
cada conto deste ciclo: lavradores, crianças e velhas (o humano) suplantam o
determinismo do sobrenatural, superam a sua precariedade de seres para a morte
e transferem algumas das suas imperfeições para o diabo. Ao contrário do
amanuense Teodoro de O Mandarim de Eça de Queirós,
que, tentado por um diabo de sobrecasaca preta e chapéu alto, mata um Mandarim
e herda sem custo a sua incontável fortuna, o camponês simples e arguto vive em
paz com a sua consciência; por isso, não se lhe aplica a moralidade enunciada
no final de O Mandarim, que é reproduzida na versão
adaptada por Gonçalo M. Tavares para a infância e a juventude: «E a vós,
homens, lego-vos, sem comentários, estas palavras: “Só sabe bem o pão que dia a
dia ganham as nossas mãos: nunca mates o mandarim”»[2]
(como lembra Coimbra Martins num dos seus estudos sobre Eça de Queirós, matar o
mandarim é cair na tentação de, por exemplo, enriquecimento imediato, por se
crer ingenuamente que nada terá de ser dado em troca).
O primeiro texto do livro, “O diabo e o lavrador”, encerra
um caso de duplicidade semântica, típica dos contos deste ciclo, que decorre da
sua configuração alegórica; duplicidade que é estratégia de activação da moral
da narrativa: o sentido literal (o diabo, de acordo com o pensamento cristão,
existe e quer dominar o Homem) interage com um segundo sentido (ao usar os seus
métodos desonestos, cada um de nós estará a encarnar o diabo). No limite, o
interesse desta narrativa resulta de uma inversão quase total de papéis que a
conhecida maldade do diabo autoriza eticamente: o maldito é explorado porque
quer enganar o lavrador. O que neste texto se faz é, pois, contra a moral do
sistema religioso oficial, a ratificação de uma moral admitida pelo contexto,
não a concretização de uma imoralidade. A cada leitor infantil caberá descobrir
se existe para si uma verdade una e infalível ou, como sucede com este
lavrador, um movimento sempre contingente e imprevisto de (i)moralidades. O
riso que o conto desperta no final é o primeiro signo da sua vitalidade.
O dogma cristão que explica o nascimento do diabo,
um anjo caído que se revolta contra o Criador, é evocado em dois textos que têm
como protagonistas duas entidades divinas. Da narrativa “O diabo e as amêndoas”
sobressai a proverbial bondade de Deus e do seu filho, que não deixa de dar um
bom conselho ao seu arqui-inimigo, mesmo se ele não lhe solicita qualquer
ajuda:
– Certo dia o
diabo, no mês de Fevereiro, ao passar pelo termo de Uva, no concelho de
Vimioso, encontrou uma amendoeira em flor e sentou-se debaixo dela, pensando
que estaria prestes a dar fruto. Entretanto, Nosso Senhor passou por lá e
perguntou-lhe:
– Que estás a fazer?
– Estou à espera que esta árvore
dê fruto. Como já está em flor, não deve demorar.
– Por que não vais antes esperar
o fruto da cerejeira? – tornou-lhe Nosso Senhor.
– Nem pensar! Esta já está em
flor e a cerejeira ainda não![3]
“Santo António e o diabo” enquadra-se na série
de contos e lendas que têm como tema a desconstrução da manha do demónio. A
novidade mais substancial deste texto reside na sua ligação ao episódio bíblico
da tentação de Cristo pelo Diabo (“Certo dia Santo António ia por um caminho e,
atrás dele, seguia o diabo a tentá-lo”[4]).
O contexto e o comportamento dos actantes cristãos são porém distintos em
relação à matriz hipotextual; mudam o cenário e o período de tempo da tentação
(o deserto e os quarenta dias reduzem-se a um caminho e a menos de um dia); e
muda sobretudo a atitude do santo, que significa uma alteração na axiologia e
na pragmática do texto: à obstinada perseguição do Diabo, que, segundo os
evangelhos, Jesus tolera e ultrapassa sábia e pacientemente, correspondem, no
texto tradicional que Alexandre Parafita reescreve, comportamentos e soluções
em tudo próprios de um ser humano comum: “O santo bem procurava correr com ele,
mas de nada lhe valia. O outro não o largava. Até que chegaram a um ribeiro que
levava muita água e onde não existia nenhuma ponte para passarem. Então Santo
António arranjou logo uma maneira de se livrar da companhia. Tirou a capa, fez
dela um barco e passou para o outro lado”[5].
Santo António quer afastar o Diabo e, depois de o conseguir, oferece-lhe
cristãmente o auxílio solicitado (mesmo se o objectivo é, sabe-se, perverso).
Mas a resposta do santo parece-nos ambígua porque não sabemos se o acto final
existe já em estado latente no acto que supostamente haveria de colocar o Diabo
na outra margem:
Mas o diabo nem assim desistia
de o acompanhar. Gritava, pulava, gesticulava. Por fim, Santo António resolve
dar-lhe uma oportunidade. E então o que faz. Usando de toda a sua força, dobrou
uma árvore da margem onde estava e fê-la chegar até junto do diabo,
dizendo-lhe:
– Vá! Agarra-te a ela! O
outro assim fez. E, mal ele se agarrou, o santo larga a árvore das mãos... e aí
vai o diabo pelos ares[6].
Por premeditação, acidente ou mudança brusca de
perspectiva, há o restabelecimento da ordem: Deus, Satã e o Homem ocupam os
seus lugares originais. Acreditar na tese da aproximação de Santo António ao
diabo é aceitar o pensamento de vários teólogos dos primeiros séculos do
Cristianismo e de poetas dos tempos modernos: a redenção de Satã, que
implicaria uma reconciliação final com Deus. A tese da libertação pode impor-se
provisoriamente ao leitor mas o desfecho do texto confirma a manutenção da
velha ordem. O diabo que “nem assim se deu por vencido”, ironizou “lá do alto”,
“antes de se perder no meio das nuvens”, por certo já pronto a avançar com a
sua ágil perversidade sobre outros filhos de Deus: “– Estás a ver, António?
Milagres é contigo, mas saltos é comigo”[7].
Elemento consubstancial à natureza humana, o humor é, aqui, demoníaco
(literalmente): imprevisto, ousado, imaginativo e feroz como o do diabo do Doutor Fausto de Thomas Mann, de cuja existência o
narrador homodiegético, depositário do relato enigmático e secreto de Adrian
Leverkün, duvida; embora não duvide do tom satânico do discurso atribuído ao
interlocutor do seu amigo: “Um diálogo? Foi realmente um diálogo? Eu deveria
estar louco para crer nisso. E, por essa razão, não posso tão-pouco acreditar
que Adrian, no fundo da sua alma, tenha considerado real o que via e ouvia,
seja enquanto o via e ouvia, seja mais tarde, quando o assentava no papel – não
obstante o cinismo com que o interlocutor tentava convencê-lo da sua presença
objectiva. Se todavia este não existia – e horrorizo-me ao admitir, ainda que
apenas incondicionalmente, a existência da sua existência real – é pavorosa a
ideia de que também aqueles argumentos cínicos, aqueles escárnios, aqueles
embustes tenham brotado da própria alma do acossado”[8].
Esta evocação e este pacto mais ou menos tácito com o demoníaco não existem nos
contos populares portugueses nem na literatura oral portuguesa em geral, que
não põe minimamente em causa a existência do Demónio (decerto porque, como
observa oportuna e lapidarmente Fernando Pessoa, “a nós o Diabo nunca nos meteu
medo”[9]).
Nas palavras de Eduardo Lourenço, na Nau
Catrineta, que reduz “o
Maligno a coisa nenhuma, reenviando o corpo ao mar (da vida) e a alma a Deus”,
a nossa relação com o diabo tem uma “funda e sábia solução”[10];
uma solução, acrescente-se, que, sem recorrer aos mecanismos do humor sábio e
do burlesco próprios do conto popular, se concretiza em absoluta seriedade.
Portanto: dois modos muito distintos de resolver o mesmo problema que, no
fundo, representam dois dos movimentos mais característicos da alma portuguesa,
que ora reage pela risibilidade ora pela gravidade e aspereza: “– Que queres
tu, meu gajeiro,
alvíssaras te hei eu de dar?/ – Capitão, quero a tua alma para comigo levar/ –
Arrenego de ti, demónio,
que me estavas a tentar!/ A minha alma é só de Deus; o meu corpo dou ao mar./
Toma-o um anjo nos braços,
não o deixa afogar./
Deu um estoiro no demónio, calmaram vento no mar./ À noite, Nau
Catrineta já estava em
terra a varar”[11].
Mas
nem todas estas narrativas delineiam a dicotomia bem/mal de modo tão explícito.
No conto “A velha e o trasgo” há uma convivência que suscita, se não uma
reabilitação do mafarrico, pelo menos um olhar moderado e inquiridor sobre ele:
Um dia, com pena dela, o trasgo dispôs-se a
compensá-la pelas diabruras que lhe fazia durante a noite. Esperou então pela
hora da sesta e, mal a velhota se encostou a um canto a passar pelas brasas, ele foi, sorrateiramente, para junto dela e
pôs-se-lhe a catar os piolhos.
Foi remédio santo. A velha
acordou da sesta mais aliviada. E daí em diante, como o trasgo passou a ir
catar-lhe os piolhos durante o dia, já ela não tinha de se coçar tanto durante
a noite. Por isso, deu em dormir sempre bem regalada, com sono de chumbo.
Dormia de tal modo que já nem dava pelo rebuliço que o trasgo continuava a
fazer em casa[12].
Quer isto dizer que não se desencadeia nestas dez
narrativas o efeito de monotonia que resulta da previsibilidade (ainda assim
sempre minimizada pelo inusitado da trama e pelo imprevisto da conclusão); a má
reputação das personagens cria um horizonte de expectativas que é todavia
inventivamente subvertido neste texto. Também “O menino de vermelho” constitui
uma proto-comédia que veicula, em termos de pragmática, a noção de que nenhuma
relação é unívoca porque o outro, actuando na ordem do agir que é sempre
contingente, define-se pela pluralidade:
Um dia, para tentar
livrar-se do “espírito” que ali tanto a importunava, resolveu procurar outra
casa para se mudar. E quando estava nas mudanças, a carregar loiças, móveis e
outros haveres, encontrou no percurso entre as duas casas um menino de vermelho
com um banco às costas.
A velhota, muito admirada,
perguntou-lhe:
– Olha lá, esse banco é
meu! Para onde vais com ele?
E o rapaz, com ar mais
admirado ainda, exclamou:
– Então não estamos a mudar
de casa?[13]
Numa palavra: cada um destes textos
confronta o sujeito com a sua natureza enquanto pessoa, com as suas verdades,
as suas dúvidas e os seus medos mais recônditos; e inscreve-o num processo de
experimentação e leitura de casos que lhe assegura uma melhor compreensão do
mundo e do seu devir. Os sentidos da vocação pedagógica destes contos e destas
lendas convergem assim não numa moralidade de sentido estrito mas num
questionamento moral (base de toda a arte ética que ensina a viver). Esta
virtualidade concretiza-se especialmente naqueles pontos em que a adesão do
receptor é fusão integral com o texto. Sempre que os leitores ou ouvintes
entram, durante o acto da leitura ou audição, no universo atópico e acrónico
que é o da instauração de um imaginário real, ocorre a suspensão da distância entre
o texto e o mundo empírico. O jogo especular entre o mundo do texto e o
imanente mais interior ao sujeito configuram então um único mundo (tão eterno e
fugaz como qualquer outro).
O
livro Diabos, Diabritos e Outros Mafarricos
contribui, pois, para a legitimação tanto da literatura de transmissão oral
como da literatura para a infância e a juventude em Portugal. Mais (recuperando
e consolidando o que dizíamos a abrir este artigo): estes textos, de que
Alexandre Parafita é simultaneamente ouvinte, recolector, intérprete e autor,
dizem-nos que há uma especificidade textual que é ao mesmo tempo oral e
escrita, dita e lida. Se cada uma destas narrativas é, antes de mais, memória
da oralidade, não é menos evidente que há também uma memória da escrita na narrativa
oral. Os sinais do registo não dominante completam o sentido do ideal de
dicção: o conto oral procura a nobreza do discurso erudito, o escrito a
naturalidade e a clareza (a verdade) da voz. É precisamente esta articulação
entre os sistemas da escrita e da oralidade que em grande parte explica o
sucesso destes textos junto dos jovens leitores (e não só, como se sabe, ou não
estivéssemos perante obras da tradição oral). A transcrição do conto é um modo
de canonização: não só porque a letra presentifica e
certifica uma textualidade até aí sujeita a uma deriva interminável, mas também
porque o centro que a escrita gera existe para ser deslocado nos processos de
leitura e reconto (oral e/ou, de novo, escrito). Entenda-se: a canonização (que
é, acima de tudo, uma questão de supervivência do texto da tradição popular)
não acontece simplesmente por se verificar a realização gráfica e sintagmática
dos signos linguísticos orais; justifica-a também a noção de oralidade enquanto
veículo multimilenar de sabedoria e encantamento lúdico.
Notemos, a concluir, uma proposição que hoje (quase)
ninguém ignora: através destes contos e destas lendas, a criança e o jovem
entram no mundo da leitura e da vocalidade enquanto redefinição dos
condicionalismos do real-real, de criação de outras formas e modelos do mundo,
e, nesse espaço e nesse tempo renovados em que se é plenamente humano, vêem
reconhecidos os seus códigos linguísticos, sociais e culturais. A sala de aula,
a biblioteca e o auditório da escola podem e devem tornar-se cada vez mais numa
mise-en-abîme em acção
dos momentos em que, na nossa sociedade tradicional, o acto narrativo era um
ritual de celebração da palavra e de coesão social.
Através do cruzamento esclarecido e operativo dos caminhos
científico, metodológico e pedagógico-didáctico, importa por conseguinte
atribuir mais visibilidade a conteúdos já há muito presentes nos curricula dos ensinos básico e secundário mas ainda não devidamente explorados
nas suas virtualidades comunicacionais, literárias e culturais. Não duvidemos:
investir no estudo e na divulgação, em contexto escolar, de textos quer da
tradição oral portuguesa (e não só), quer da literatura para a infância e a
juventude que se institui a partir de genótipos tradicionais, é favorecer a
liberdade de ser e de pensar, aprofundando a educação para a cidadania e a
implementação de novas capacidades cognitivas; e é promover um conhecimento
organizado e esclarecido da língua portuguesa, desde logo na sempre actual
problemática da norma e dos desvios, a que importa garantir uma abordagem
séria, sob pena de não investirmos na edificação de um ambiente social e
cultural mais pluralista, aliciante e democrático.
Mas não é suficiente dispormos de uma utensilagem
teórico-crítica cada vez mais penetrante para a análise ideológica,
psicológica, antropológica ou linguística destes textos no processo de
ensino-aprendizagem. O valor de uso dos contos e das lendas do ciclo do diabo
exige que se considere como estratégia essencial de todo este processo a
recolha activa de textos por parte dos alunos: quer os que eles eventualmente
apresentam como corpus
interiorizado, quer os que circulam nos seus ambientes de socialização
interpessoal, quer, ainda, os que existem em volumes como os de Teófilo Braga
ou José Leite de Vasconcelos e, agora, de Alexandre Parafita. Ao
desenvolvimento de actividades e estratégias de operacionalização
pedagógico-didáctica inscritas no currículo (ouvir / falar / ler / escrever) há
portanto que acrescentar actividades de intermediação que mobilizem as
comunidades em torno das suas narrativas literárias breves e das suas escolas,
gerando e fomentando uma cultura de escolaridade alargada, de respeito e apreço
pelo texto da cultura oral e tradicional, pela instituição escolar e pelo
outro.
Ora, tal não é plenamente exequível sem o
desenvolvimento de projectos de parceria “escola/comunidade” que procedam a uma
conceptualização prática dos textos (simultaneamente orais, populares e
tradicionais) e à implementação de uma cultura literária que é tanto de maravilhamento
lúdico e estético quanto de conhecimento sobre o mundo; em última instância, de
problematização da cultura do preconceito e do fundamentalismo de qualquer
espécie. Expliquemo-nos: sobre estes textos recaem os prejuízos que, regra
geral, afectam os actos que a palavra superstição recobre e por isso
conhecê-los é aprender a respeitar as crenças e as práticas descritas no acontecimento textualizado. Não é por acaso que este
livro se constrói também como manual de cultura popular que o leitor infantil e
juvenil lê com gosto e proveito: cada texto, apresentado num breve parágrafo
por uma voz coloquial mas de especialista que usa uma metalinguagem apropriada
ao desenvolvimento cognitivo e cultural dos seus destinatários directos, traz
em si a marca de leituras do mundo real e do mundo maravilhoso ou sobrenatural,
sem fazer juízos de valor abusivos acerca da mundividência e de costumes que
poderão ser recebidos por muitos leitores pelo menos com algum estranhamento
negativo (acrescente-se: as notas de rodapé que por vezes acompanham as
narrativas assinalam ainda mais a vinculação do narrado a um tempo e a um
espaço próprios).
Sobretudo nas narrativas protagonizadas por trasgos,
esse estranhamento transforma-se rapidamente em fascinação lúdica e em construção
de uma experiência artística que decorre da articulação indefinível entre a
objectividade (reprodução de um representado) do texto e a subjectividade (acto
intransmissível de consciência) do leitor. Como é óbvio, esta oscilação,
própria da obra literária em geral, acentua-se nos textos que têm como
referentes principais estes seres estranhos e vagos. Seja como for, nesta
série, a ligação do maravilhoso natural a pessoas comuns não é muito diferente
da relação que, nos contos tradicionais e universais mais divulgados, existe
entre essas mesmas pessoas, incluindo as crianças, e os duendes e gnomos. Uma
parte muito substancial da riqueza deste livro reside na existência de dois
tipos de estranhamento: o fantástico e o maravilhoso. Lida-se com o inexplicado
que é a encarnação do mal – o Diabo – dentro de um universo em que prevalece a
indecidibilidade: o jovem leitor hesita entre as causalidades contrárias da
Natureza e do sobrenatural. Existe um ambiente de estranheza e indecisão que
não favorece a instauração, em termos absolutos, de uma realidade-outra. A este
território chamamos, de acordo com a taxinomia de Todorov, fantástico[14].
Nas narrativas em que entra o trasgo aceita-se, considerando o seu carácter não
propriamente maléfico e infantil, que é o sobrenatural que impõe as suas leis e a sua realidade: a
realidade do maravilhoso, como acontece nos contos de fadas, não o mundo do
fantástico protagonizado pelo Demónio, o representante máximo do Mal e promotor
de todos os medos (estatuto que, mesmo neste textos que o humanizam e
ridicularizam, é seu por direito inalienável). Tanto o maravilhoso como o
fantástico, categorias pelas quais se opera uma busca ontológica e se desafia a
velha ordem religiosa, visam não a concretização de uma verdade, mas a procura
e a experimentação de verdades. Na visão do mundo aqui apresentada não há
irracionalidade mas antes pluralidade.
Estes procedimentos teórico-metodológicos e
pedagógico-didácticos permitirão por certo sublinhar o diálogo intertextual que
os contos e as lendas do ciclo do diabo estabelecem com o esquema matricial de
uma Língua e de uma Literatura que todos conhecemos e usamos; e contribuirão
com naturalidade para a concretização do objectivo que todos perseguimos,
independentemente da função que desempenhamos no sistema educativo: a
construção de cidadãos plenamente amadurecidos, civilizados, cultos e com
aptidões e interesses diversificados.