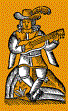|
|
Nogueira, Carlos. “A oraćčo
portuguesa de tradićčo oral”.
Culturas Populares. Revista Electrónica 4
(enero-junio 2007). http://www.culturaspopulares.org/textos4/articulos/nogueira1.htm ISSN: 1886-5623 |
A oraćčo
portuguesa de tradićčo oral
Carlos Nogueira
Resumo:
A partir da leitura de trźs livros, estudamos neste artigo alguns dos
aspectos da expressčo e do conteúdo da oraćčo portuguesa da tradićčo oral,
especificidade textual que nčo pode ser satisfatoriamente compreendida senčo ą
luz do especial ordenamento estético-literário que lhe é inerente.
Palavras-chave: Oraćčo, tradićčo oral,
Portugal.
Abstract
Taking as a basis three books,
this paper approaches some aspects of traditional oral Portuguese prayer, both
in its contents and expressive resources. The textual specificity of these
prayers may only be understood within their particular aesthetic and literary
contexts.
Keywords: Prayer, Oral tradition, Portugal.
|
N |
a tradićčo oral portuguesa subsiste um vastíssimo corpus de textos com valor ilocutórios, quer dizer,
investidos de forća pragmática, ritual, aos quais se atribui uma eficácia que
explica a sua pulverizaćčo e persistźncia espacial e temporal. Essa riqueza
contrasta – mau grado os abundantes espécimes reunidos em cancioneiros,
romanceiros e monografias – com a quase inexistźncia de colectČneas
portuguesas exclusivamente dedicadas a esses poemas orais com funćčo oracional,
devocional, actuantes sobre potźncias e forćas superiores ou exteriores ao
homem. Tratando-se embora de uma fascinante forma de poesia que se presta a
enfoques analíticos aptos a destacar as junturas interdisciplinares que a
notabilizam enquanto terreno pregnante de sentidos, a verdade é que também nčo
beneficiou ainda em Portugal de um trabalho analítico de fôlego capaz de
apreciar conjuntamente alguns dos seus aspectos (antropológicos, sociológicos,
etnográficos, religioso-profanos, literários, etc.).[1]
Esse défice foi recentemente minorado com a publicaćčo
do acervo coligido por J. A. Pombinho Júnior – Oraćões Populares Recolhidas em
Portel –,[2] numa relevante edićčo crítica de Maria Aliete
Dores Galhoz, que reclama para si, com legitimidade, a introdućčo no nosso país
do aparato editorial estribado na visualizaćčo do «percurso de uma “lićčo”
manipulada, havendo testemunhos desses “refazimentos” e intervenćões, em
direcćčo ao testemunho originário recebido».[3] A experiźncia, bem sucedida, operante sobre o
romance vulgar “D. Aleixo” editado no Romanceiro do Algarve (1870) de Estácio da Veiga[4], prossegue aqui intensificada, oportunamente
valorizada pela descrićčo cuidada, teórica e programática, na “Introdućčo”, do
método crítico encetado na feitura da obra, susceptível de aplicaćčo a outros
textos de circulaćčo oral, numa meritória diligźncia de alcance pedagógico e de
diálogo científico.[5]
O corpus desta obra compõe-se de 170 textos, recolhidos com
solicitude científica durante anos no coraćčo do Alentejo, em Portel, distrito
de Évora, por um colector e transcritor competente e atento, que nčo censurou
os materiais recolhidos, enriquecendo-os antes com copiosas notas para
confronto. Aos 140 que configuravam o “corpo fulcral dactilografado”, em
T.A/T.B”[6] (Testemunho A e Testemunho B, conjuntos dactilografados
do “corpo” da obra, o primeiro original de máquina, o segundo cópia mecČnica),
juntou Maria Aliete Galhoz mais 30, transcritos do maćo que nčo deixava
perceber por fora o seu conteúdo, constituído por documentos avulsos, variados
no conteúdo e nos suportes (que indiciam prospecćões mais recentes, até porque,
por outro lado, poucos revelam intervenćões subsequentes de A. J. Pombinho
Júnior), sem ordenaćčo, com caligrafia nem sempre do colector.[7] A edićčo crítica de Maria Aliete Galhoz, no
seu modo muito peculiar de perscrutaćčo textual, mune-se do levantamento
exaustivo dos múltiplos vectores dos testemunhos de base (T.A, T.B, T.a e T.b),
sendo T.A, isto é, o dactiloscrito original de máquina, a plataforma com que a
investigadora trabalha, concorrendo os demais testemunhos em produtiva
articulaćčo com ele, para cotejo informativo ou para suprir omissões. Apenas
podemos avaliar de excelente a općčo, que certamente sancionou a autora com um
esforćo moroso e árduo, porém aliciante e compensador, de enveredar por um
meticuloso comentário do jogo informante das variantes e das acćões de A. J.
Pombinho Júnior na urdidura textual. O mesmo pormenor preside ą descrićčo
técnica, ponderada, dos suportes das transcrićões e das modalidades das
notaćões e revisões praticadas pelo colector e dos materiais de escrita nelas
usados.
Na descrićčo da proveniźncia dos textos, se o
autor-recolector assinala sempre, no manuscrito a que Maria Aliete Galhoz
convencionou chamar T.a (o testemunho mais antigo), a identidade e o local de
origem do informante (perto de meia centena, número muito significativo pela
credibilidade e representatividade que confere ao conjunto colectado), a menćčo
da data da recolha, pelo contrário, é muito escassa. Esta postura –
tčo-só a indicaćčo geográfica da colheita e o nome do colector –
insere-se na tendźncia editorial portuguesa de textos procedentes da
transmissčo oral, característica dos anos vinte/trinta do século XX e, mesmo,
posterior. Contudo, na opiničo da editora, se pode supor-se que A. J. Pombinho
Júnior, a ter editado a colecćčo de oraćões perto da sua preparaćčo inaugural,
teria cedido a esta convenćčo, nčo é menos legítimo pensar que, num momento
muito ulterior de “revisitaćčo e trabalho de continuaćčo (nčo antes dos anos
’50, cremos), esta incluiria, muito provavelmente, a nomeaćčo dos informantes”.[8] Nesta edićčo preparada por uma experiente
editora literária tanto de obras ditas cultas como orais / populares /
tradicionais, as versões estčo antecedidas de informaćões de procedźncia,
elaboradas a partir dos dados constantes em T.a, de acordo com o protocolo
unanimemente seguido na edićčo de textos “textos folclóricos”.[9] Esta abordagem textológica do espólio legado
por J. A. Pombinho Júnior, que projectou a sua edićčo em livro autónomo, o que
justifica os vários testemunhos deixados, é por isso verdadeiramente inédita e
fundadora em Portugal.
A introdućčo que acompanha as Oraćões Populares Recolhidas em
Portel persegue uma definićčo
contextualizada de oraćčo, distinguindo grosso modo a oraćčo latrźutica, propiciatória ou pacificadora,
das demais formas, verticalizadas através de “oficiantes, ritual gestual mais
complexo”, aquelas que “apelam a conhecimento verbal específico”.[10] A tónica, na substČncia que anima as oraćões,
é posta no ideário canónico Católico Romano e no património popular paralelo,
que abrange um elenco de figuras e respectivos feitos em vida com
potencialidades salvantes, designadamente Jesus Cristo, a Virgem Maria e os
santos que, por esta ou por aquela razčo, mereceram o estatuto de “medianeiros
ou detentores de poder interventor sobrenatural benéfico junto dos que os
invocavam em determinados perigos (materiais ou espirituais) ou específicas
doenćas”.[11] Observa-se com perspicácia que as oraćões
mais representadas neste como noutros repertórios pertencem ą sub-rubrica “ao
deitar”, na dependźncia directa do imaginário ou de íntimas engrenagens
vivenciais activadas “pelo temor e esperanća inscrita na crenća de uma primeira
escatologia, cumprindo-se no imediato de cada homem com a sua morte física”.[12] Ocupa-se depois a investigadora da resenha
crítica dos principais estudos sobre a oraćčo folclórica, em Portugal, desde os
positivistas oitocentistas até aos nossos dias, salientando-se, entre outros,
na nossa contemporaneidade, os estudos de Manuel da Costa Fontes ou os da
própria Maria Aliete Galhoz e, em Espanha, o caso notável de José Manuel
Pedrosa. O leitor pode comprovar essa preocupaćčo e curiosidade intelectual na
extensiva bibliografia especializada, fornecida na introdućčo e no final da obra, em
complemento da citada e consultada por J. A. Pombinho Júnior. A introdućčo
engloba ainda um pormenorizado esquema da edićčo, quer da que o autor
projectou, quer da presente edićčo crítica, a que nčo falta uma identificaćčo sistemática,
funcional, dos critérios e passos seguidos na reabilitaćčo do texto terminal
– com trźs testemunhos – que J. A. Pombinho Júnior nčo chegou a ver
em forma de livro. A disposićčo arquitectural que controla a variedade de espécies de oraćões
atribui-se ao próprio autor da recolha, que adoptou princípios funcionais,
algumas vezes discutíveis, mas que obviamente Maria Aliete Galhoz nčo alterou
para nčo falsear o que existia firmado no projecto de livro das OPP (sigla
utilizada pela editora). Se, de um modo geral, se compreende perfeitamente a
lógica da titulaćčo pragmática (“Oraćões Quotidianas”: da manhč, antes de
comer, depois de comer, ao iniciar o trabalho, ao deitar, etc.), já é menos
fácil aceitar o agrupamento nomeado simplesmente “Oraćões”, por ser demasiado
genérico, conformado, além do mais, por textos que, na sua grande maioria, nčo
tornam problemática a sua regulaćčo num grupo (ou em vários) que tome como
denominador comum as personalidades invocadas (a Virgem Maria, Jesus e os
santos). Nos dois textos registados com o título “Para defender das bruxas”,
diríamos mesmo que se distende o Čmbito nocional de oraćčo, ao fazź-la
coincidir com o que pertence com mais propriedade ao campo do conjuro (ou
esconjuro) ou do exorcismo (o mesmo acontece, nas “Oraćões Diversas”, sobretudo
com os textos 124 e 125: “ao fazer o trovčo”).[13]
Sujeito a uma dispersčo incómoda encontra-se também o
título “Oraćões diversas”, bastando dizer que nele entram, na distribuićčo de
A. J. Pombinho Júnior, poemas tčo diversos funcionalmente como o “Padre Nosso
Pequenino”, o “Padre Nosso Consolador” e o “Padre Nosso da Palma”,[14] poemas mariČnicos, os que intervźm nas várias
etapas da confecćčo do pčo, outros dirigidos para a obtenćčo de favores sobre
aves – as galinhas – muito importantes na economia doméstica, ou
sobre fenómenos metereológicos (contra os relČmpagos, contra as trovoadas), ou
ainda aqueles que fazem parte do arsenal verbal protector do caminhante
(recitam-se quando se passa por um cruzeiro ou junto de um morto, quando se
avista um cemitério ou uma estrela cadente). Poemas que, na quase totalidade,
poderiam sem inconvenientes ser deslocados para secćões ou subsecćões mais
autónomas, com uma configuraćčo idźntica ąs que tźm vindo a reger as
classificaćões de Maria Aliete Galhoz.[15] As solućões passariam, por exemplo, para o
“Padre Nosso Pequenino” e textos afins, pela sua inserćčo numa alínea de
“Oraćões Paralelas ąs da Igreja”, de “Oraćões de Protecćčo ou de “Oraćões
Quotidianas” (“Oraćões da Noite”), e, para as oraćões que invocam a Virgem
Maria, pelo seu enquadramento numa área de oraćões “MariČnicas”. Conveniente
seria ainda, neste alinhamento, a supressčo dos textos que, como já dissemos,
constituem (ou parecem constituir) conjuros.
Merece crédito, como se vź por esta edićčo crítica, o
apelo de Maria Aliete Galhoz no sentido de que iniciativas deste tipo –
que partiu de um convénio assinado entre a CČmara Municipal de Portel e o
Centro de Tradićões Populares da Faculdade de Letras de Lisboa – ocorram
com mais frequźncia, para que outros acervos nčo se tornem “um puro depósito em
arquivo”.[16]
Por tudo isto, nčo é impunemente que Jočo David Pinto
Correia, o prefaciador da obra, confessa (palavras que subscrevemos
totalmente): “por vezes nčo soubemos bem o que mais havíamos de realćar –
se, por um lado, a importČncia, a beleza e a riqueza do corpus, se, por outro, a relevČncia e a
exaustividade do tratamento crítico que esse corpus mereceu da parte da sua editora literária”.[17]
Na mesma linha de investigaćčo
séria e apaixonada, a preparaćčo em curso de um Catálogo exaustivo das oraćões
tradicionais portuguesas, acompanhado de um necessário estudo minucioso, a
partir do Fundo do Centro de Tradićões Populares Portuguesas da Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa e da própria biblioteca de Maria Aliete
Galhoz, está divulgada desde 1996, numa nota que a autora dedicou a um acervo
brasileiro de oraćões e cantos com funćčo oracional.[18] A investigadora caracterizou desta forma esse
corpus, no qual encontra
interessantes similitudes funcionais e textuais com o conjunto que tem entre
mčos: “apresenta um tratamento cuidado e completo, pois dá os textos e os
contextos, e tem a notaćčo musical de todos os cantos, elemento importantíssimo
do que é o rosto de uma colecta viva, caso que se verifica ser o desta
pesquisa”.[19]
Maria Aliete Galhoz havia já supervisionado, com a sua reputada competźncia e experiźncia no campo da literatura de transmissčo oral, a classificaćčo e arrumaćčo das Rezas e Benzeduras de Aníbal Falcato Alves.[20] Este título parece-nos particularmente feliz, ao postergar o vocábulo “oraćões” – empregado depois na designaćčo e colocaćčo dos textos –, mais erudito, ou menos popular, pelo termo “rezas”, numa penetrante sincronizaćčo com a práxis contextual da cultura tradicional. Impor-se-ia, contudo, no texto introdutório como na taxionomia que vertebra o livro, da responsabilidade de António Simões, na mesma linha de recuperaćčo terminológica consagrada pelo uso, se nčo o recurso específico, pelo menos uma alusčo ao lexema “talhar” e seus cognatos (talhar a doenća, cortar os canais de contacto com o mal), talvez mais célebre na tradićčo oral do que o vocábulo mais ou menos equivalente “benzedura”.
O labor
classificatório de Maria Aliete Galhoz nestes géneros da literatura oral incidira
já nos 89 textos recolhidos por Idália Farinho Custódio, acolhidos nos dois
volumes da Memória Tradicional de Vale Judeu[21], cuja relevČncia foi já sublinhada por José
Manuel Pedrosa, surpreendido com a raridade e antiguidade de alguns temas. Este
investigador recebe com admiraćčo e arrebatamento, por exemplo, a «oración
transcrita en el vol. I , p. 89 (“Tinha trźs chaves:/ uma com que se abria,
outra com que se fechava,/ e outra com que o Senhor s’alumiava./ Numa ponta tinha a lua,
noutra tinha o sol pintado,/ noutra tinha Nosso Senhor crucificado”)», por ser
o «único testimonio portugués que conozco de la oración panhispánica de Las
tres llaves,
sobre la que puede verse mi artículo “Las tres llaves y Los Huevos sin sal: versiones
hispano-cristianas y judeo-sefardíes de dos ensalmos mágicos tradicionales”, Sefarad, 58 (1998), pp. 153-166».[22]
Neste zelo
científico de validaćčo e esclarecimento de uma zona ainda sombria da
literatura e da prática cultural portuguesa, nas suas variáveis e invariáveis
regionais, inscreve-se igualmente o recém-publicado livro Oraćões de
Ligares. Recolhidas por Guerra Junqueiro, também organizado por Maria Aliete Galhoz e com
prefácio de Arnaldo Saraiva.[23]
Dispomos já,
pois, de obras que estabelecem travejamentos seguros para posteriores colecćões
que se pretendem regidas por critérios taxionómicos equilibrados. Fica também o
convite implícito a estudos crítico-genológicos centrados na miscigenaćčo entre
o Romanceiro religioso e a oraćčo, que absorve com insistźncia sequźncias de
diferentes textos romancísticos, temática e formulisticamente disponíveis para
cumprirem funćões oracionais. O que a torna num espaćo fértil em possibilidades
de recuperaćčo arqueológica de temas do chamado “romance-centčo” religioso,
como já bem lembrou Pere Ferré, no sentido da redućčo de um considerável atraso
no ordenamento deste sector.[24]
Nčo menos assinalável para o conhecimento desta área
literário-cultural é a supracitada obra Entre la Magia y la Religión:
Oraciones, Conjuros, Ensalmos
de José Manuel Pedrosa, que reúne, ampliados e refundidos, sete estudos
espalhados por revistas científicas de Espanha, Portugal, Alemanha e Suécia.
Trata-se de uma abordagem muito valiosa e útil para a clarificaćčo de
territórios obscuros da textualidade oral portuguesa, porquanto o autor
apresenta amiúde composićões da nossa literatura vocalizada (ainda movente ou
fossilizada pelo registo escrito), confrontando-as criticamente com congéneres
do mundo hispČnico ou pan-europeu, numa revelaćčo de filiaćões genéticas que
ajudam a perceber o carácter amplamente itinerante, volante, de muitos dos
textos que vivem na vocalidade tradicional, indiferentes a fronteiras físicas e
linguísticas. Estes ensaios surgem enformados por uma visčo de raiz
interdisciplinar, enriquecidos com amplíssimas anotaćões bibliográficas, que
reenviam para as múltiplas matizes – literárias, etnográficas,
religiosas, mágicas, curativas, etc. – que singularizam estes textos e
para as análises diversas que suscitam.
O contributo crítico deste
professor e investigador de Literatura oral / popular / tradicional – um
dos nomes cimeiros e de referźncia na recentragem do discurso crítico-literário
que perturba e afronta a ortodoxia instalada – ficara já bem notado em
1995, com a publicaćčo de Las Dos Sirenas y Otros Estudios de Literatura
Tradicional (De la Edad Media al Siglo XX),[25] a que juntou, em 1999, Tradición Oral y
Escrituras Poéticas en los Siglos de Oro.[26] ň medida que se avanća na leitura dos
trabalhos deste autor, surpreende a novidade das constantes aproximaćões
hermenźuticas comparatistas, que congraćam textos – canćões, romances,
provérbios, adivinhas, contos, lendas, oraćões, conjuros, iconografia popular,
etc. – supostamente distantes e incomunicantes, num diálogo fecundo entre
cultura folclórica e cultura erudita, tradićčo oral e tradićčo escrita. Aspecto
nčo despiciendo é ainda o trabalho de fixaćčo de materiais literários orais em
prospecćões de campo, com os quais alicerća uma parte substancial dos seus
escritos, ao mesmo tempo que garante a sua preservaćčo e iluminaćčo exegética.
O autor encara a complexa questčo da poesia religioso-supersticiosa defendendo, “con calculada y resignada ambigüedad”, o carácter mágico-religioso[27] destes actos de linguagem – actos de fala imbuídos de significado transcendente, proferidos preferencialmente por mulheres experientes (rezadeiras ou benzedeiras), munidas de um “dom” ou de uma aptidčo enérgicas[28] – que utilizam a categoria do performativo como mecanismo essencial, ao pretenderem fazer acontecer, realizar acćões socialmente determinadas (pedidos, ordens, promessas, etc.). O “Prólogo” encerra irrepreensivelmente com a convicćčo de que o mágico e o religioso constituíam (e constituem) universos complementares, uma conformaćčo, afinal, que “podía com mucha más razón y com mucha más justicia haberse considerado y valorado como un patrimonio que unía y acercaba, por encima de épocas, fronteras y tradiciones”.[29] Nesta poesia conflui todo um complexo mosaico cultural que sustenta, na ideia de fusčo do mundo em Deus e nos santos, um recurso ditado talvez «pela falta de espessura humana, carnal, terrestre e comunitária da existźncia humana que o rito “oficial” recalca»,[30] provocando a obnubilaćčo (mas nčo o turvamento irreversível) dos resíduos pagčos afectos ą estrutura dos ritos cristčos. No que se vź a natureza dilemática, problematizante, do pensamento, das intuićões e das construćões ou significaćões religiosas populares, situadas em geral ą margem do padrčo especificamente eclesial do culto.
O
hibridismo destas formas marginalizadas de poesia oral legitima as cautelas com
que José Manuel Pedrosa aborda os textos empíricos, viventes ou superviventes
durante séculos, nalguns casos milénios, no fundo mais íntimo e recôndito da
tradićčo popular hispČnica, hispano-portuguesa, pan-europeia e mesmo universal
(veja-se o minudente estudo “Ritos y ensalmos de curación de la hernia
infantil: tradición vasca, hispánica y universal”).[31] Algumas das manifestaćões poemáticas
convocadas para as páginas deste livro foram rezadas, com a mesma observČncia
piedosa, por pessoas de credos distintos, cristčos e judeus, por exemplo, e ao
longo de épocas muito diferentes, desde a antiguidade pré-cristč até aos dias
de hoje, numa admirável firmeza das suas ressonČncias míticas e pagčs ou da sua
prática mágico-sagrada. Aparece como inevitável perceber que estamos perante
influentes textos compósitos, seminais, que procuram deter, na ancoragem
possibilitada pelo sobrenatural, a aproximaćčo da desarmonia e da morte. Este
devocionário popular, colectivo, oferece solućões para doenćas declaradas, como
oferece protecćões ao longo da jornada diária (repare-se nas oraćões da noite:
“Obrigado, ó bom Jesus,/ Pelo Vosso grande amor,/ Perdoai-me o mal que fiz,/
Ajudai-me a ser melhor”).[32] No “Prólogo”, exemplar pela clareza e agudeza
das sínteses propostas, adverte para as dificuldades colocadas a conceitos
unívocos de “oración”, “conjuro”, “ensalmo” e “plegaria”, o que nčo obsta a que
ensaie definićões que se constituirčo certamente em auxiliares preciosos para
especialistas, estudantes ou meros curiosos da cultura e da literatura oral /
popular. O desiderato de ordenar e compreender um espaćo textual amplo e difuso
fundamenta, por exemplo, as restrićões impostas ao uso do termo “plegaria”
– tipo de oraćčo em que se sobrelevam os planos da submissčo,
arrependimento, súplica e pedido de perdčo ą divindade, com ou sem gestos e
comportamentos físicos de genuflexčo ou prostraćčo[33] –, em virtude precisamente da flutuaćčo
tipológica de que se revestem os textos cobertos por essa designaćčo, ao
deflectir eventuais traćos distintivos relativamente ą oraćčo. Esta
sistematizaćčo revela-se utilíssima para o desenvolvimento salutar das
investigaćões lusas no Čmbito destas práticas culturais movedićas, que
continuam a resistir a uma desmontagem crítica efectiva, muito por influźncia
da corrupćčo adveniente dos usos e abusos de denominaćões imprecisas,
indistintas, redundantes, com a agravante da ignorČncia nčo assumida por parte
dos seus autores (que deveriam ser mais precatados, como se exige sempre que se
obra com utensilagens teórico-metodológicas pouco nutridas) e dos consequentes
atrasos científicos que se včo acumulando e agudizando.[34] Aguarda-se, assim, um ensaio que contemple um
excurso fundamentado, circunstanciado, dos problemas que afectam estas
denominaćões e proponha uma revisčo conceptual de fundo, com vista a um
estabelecimento, tčo firme quanto possível, de um quadro analítico que sinalize
os veios capitais de cada um desses universos, definindo especificidades e contactos
íntimos ou tangenciais.
Sčo fluidas as fronteiras entre oraćčo e reza, mas
consideramos mais ou menos pacífico afirmar que “oraćčo”, no seu significado
genérico, dicionarizado, de invocaćčo a Deus ou aos santos, apontada regra
geral como sinónimo de “reza” e “prece”, se compromete, antes de mais, com um
envolvimento conceptual histórico-religioso que a associa a objecto linguístico
de constituićčo quase sempre ortodoxa. Nčo é por acaso que algumas oraćões se
filiam no registo impresso (folhetos, folhinhas, pequenos manuais), aceite, e
ąs vezes incrementado, pelos organismos religiosos dominantes. Maria Aliete
Galhoz lembra, a este propósito, os louvores mariČnicos que, muito
possivelmente, se ligariam aos “cČnticos que entremeavam a recitaćčo de novenas
em confrarias e irmandades sob invocaćões várias da Virgem”, prática cultual
que tinha por guičo um pequeno opúsculo.[35] Já “reza” remete mais para a vertente física
ou sonora do texto, isto é, da prolaćčo, o que supõe especiais qualidades
comunicativas (oratórias, persuasivas) dos enunciadores, na actualizaćčo
pública como na privada, em voz alta como em voz baixa; e “prece” (do latim precari, que quer dizer “suplicar”, “rogar”) promove um
discurso fortemente conotado com súplica, rogo, pedido de perdčo,
arrependimento, afastando-se das outras modalidades precatórias pela maior
amplitude da submissčo ą personagem divina. As causas que provocam o
aparecimento da oraćčo e da prece diferem geralmente do pendor prospectivo da
primeira – destinada ao rogo de favores futuros –, e retroactivo da
segunda –, interessada na resolućčo de erros cometidos no passado.
Esta
poesia religioso-profana – arte aberta, variacional, combinatória, que
partilha dos mesmos impulsos de fecundaćčo, adaptaćčo, recriaćčo e reprodućčo
da poesia oral – é prova sólida da composićčo fortemente sensorial da
religičo popular, que preenche com ritos e festas o vazio ou a anulaćčo a que a
Igreja oficial, espiritualista, intimista e abstracta, submete o corpo e o
sensório. O movimento indecidido de um “Padre Nosso Pequenino”[36], de uma “Oraćčo da Quarentena” ou de uma
benzedura (no organismo entretecido pelos códigos linguístico, gestual,
proxémico[37] e melódico-musical) deflui da existźncia
potencial da estrutura de superfície, um composto de forćas que estremece e se
expande ou comprime em cada actualizaćčo. A preservaćčo do núcleo da forma
arquetípica – reconhecível, em tempos e espaćos diferenciados, nas
multiplicadas versões do mesmo corpo textual – nčo é imune a corrupćões,
substituićões, redućões, supressões, ampliaćões e contaminaćões, fenómenos
diversos da poética do oral, interobrantes em vez de contraditórios,
fecundantes ao invés de castradores da continuidade e originalidade do
território em que actuam. As permutas vocabulares decorrem nčo raro da
dissolućčo fonemática (“Oh meu filho Nicolau,/ Oh meu filho Nicolosso,/ Oh meu
bispo tčo formoso”), seja por dificuldades de prolaćčo ou desconhecimento
efectivo do lexema, seja porque a nova palavra resulta mais sonora e melodiosa
(como parece ser o caso do exemplo anterior), seja por preferźncias ideológicas
ou ideo-religiosas (como sucede nas comutaćões que envolvem menćões crísticas,
marianas ou de santos populares). As valźncias desencadeadas pela propensčo
migratória de certas sequźncias produzem oraćões compósitas, estruturas de
ressonČncia que viabilizam o reconhecimento e a eterna reciclagem da matéria
temática e métrico-rítmica da arte verbal tradicional. A tendźncia para a
concisčo – intrínseca ą poesia oral, por forća das suas especificidades
técnico-literárias, de recepćčo e de transmissčo – determina cortes de
etapas ou versos considerados remanescentes, mas nčo invalida o efeito orgČnico
– moderado – oposto, ocorrente em especial, como é óbvio, nos
textos de pendor narrativo-dramático, indicaćčo e vicissitude, de resto, dos
infinitos movimentos de (re)criaćčo da obra literária oral.
A poética
destas obras versificadas “de circunstČncia”,[38] de acordo com a categorizaćčo de P.
Matvejevitchi, assim denominadas por celebrarem, cantadas, recitadas ou
salmodiadas, em determinados rituais ou cultos, os sucessos da vida privada ou
subjectiva, psíquica, vale-se de uma dinČmica retórica que vive da brevidade e,
interactivamente, de procedimentos de intensificaćčo. Um número muito
significativo destas práticas linguístico-discursivas adopta como estrutura
funcional a famigerada e operativa quadra (a quintilha e a sextilha também nčo
sčo invulgares), forma mínima que, nos estreitos limites da sua dicćčo poética,
condensa e veicula os traćos fundamentais da piedade popular, mormente a Čnsia
de transcendźncia e a atracćčo pelo controlo das vicissitudes terrenas, num
modelo em que se fundem sentimentos de devoćčo e de investimento pessoal, ą
margem do padrčo canónico do culto. A par da rede de áreas do conhecimento que
confluem nestes (quase sempre) pequenos poemas, ressalta a sua interessante
arquitectura estético-literária, responsável, em grande parte, pelo seu
extraordinário sucesso no tecido psicossocial das comunidades que os
actualizam. Do estilo litČnico, murmurante, sincopadamente marcado pela
reiteraćčo fónico-semČntica, ressuma a crenća no estabelecimento de um diálogo
profícuo, reparador, ąs vezes profiláctico (como nas oraćões de viagem), com o
sobrenatural, o desconhecido, o misterioso.
O nonsense léxico-semČntico que atravessa muitos versos
potencia as virtualidades sonoras e compassadas da palavra, veículo
privilegiado de acesso ao domínio do mágico, porém interrelacionado com outros
actos pragmáticos, crenćas ou convenćões integrados no mesmo “programa ritual”,
como, por exemplo, as atitudes gestuais, corporais, do orante, ou os “objectos
funcionais, simbólicos, indiciais (traćos, vestimentas)”.[39] Corruptelas, inéditas e inusitadas sequźncias
fónicas, jorro lúdico de palavras, repetićões, anáforas, sinonímias sčo apenas
alguns dos elementos retóricos que concorrem para o valor exponencial –
artístico e funcional (persuasivo) – do significante, já em plano
primacial na superfície poemática por acćčo de tropos de estrita base fónica
(vários tipos de rima, aliteraćões, assonČncias).
A tessitura
lírica que caracteriza estas obras acolhe muitas vezes aprofundadas realizaćões
narrativas com inevitáveis consequźncias dramáticas, visíveis no corrimento
dialogante instaurado por personagens (“heróis”) – figuras cimeiras no
imaginário cristčo, portanto sujeitos-operadores credíveis – ocupadas
numa progressčo tendente ą consecućčo de um fazer de densidade ético-religiosa,
justificável pelo imperativo de reposićčo da ordem no plano do humano. Nos
ensalmos ou nos responsos e nas benzeduras, esconjuros ou exorcismos, mais
injuntivos ou autoritários, na sua missčo curativa, regenerativa, do que as
oraćões anódinas, impetrantes, os agentes destruidores ou perturbadores do
equilíbrio físico, psicossomático ou cósmico sofrem a acćčo do poder
exorcizante de cerimónias privadas, dir-se-ia mesmo clandestinas, instituídas
numa espantosa mistura sinérgica entre o sagrado e o profano. Nčo obstante essa
naturalidade, as oraćões e as benzeduras, dotadas de efeitos sugestivos,
poéticos, práticos, sčo linguagem estética, materializada numa textura de
sinais (verbais, sonoros, posturais, instrumentais, etc.) que, corporizando a
obra, a tornam poderosa e comunicável.
Exemplificando:
nalgumas das versões da “Oraćčo da Trovoada”, responso que mereceu já um
interessante estudo etnográfico e semiótico de José Augusto M. Mourčo,[40] passível de producente aplicaćčo a outros
textos do género, relata-se uma brevíssima história – que nčo carece dos
factores nucleares da narratividade – protagonizada por um actante (Santa
Bárbara, Santo António, S. Jerónimo, etc.) credibilizado por actos factuais ou
lendários, que beneficia ainda da participaćčo activa de um sujeito-adjuvante
(“Jesus”, “Nosso Senhor”, “Nossa Senhora”). A singeleza do episódio narrado
afigura-se inversamente proporcional ąs virtudes que se lhe atribuem,
reforćadas pela pronunciaćčo final, reiterativa, de canónicos Pais-Nossos e Ave-Marias. Mas a verdade é que desenha um mundo potencial com
credibilidade garantida, porque suficientemente próximo e distante da
referencialidade quotidiana. Desproporcional aos efeitos produzidos ou
pretendidos poderá também parecer a estilística participante na construćčo
textual, ao praticamente prescindir de figuras de pensamento em favor de uma
linguagem de “degré zéro”, como a entendiam os autores da Rhétorique
Générale,[41] quer dizer, um discurso naēf e sem
artifícios, retractivo a ornatos e subentendidos. A contextura estética da
seguinte versčo de Reguengos de Monsaraz da “Oraćčo a S. Jerónimo”[42] depende muito da cadenciada celeridade
narrativa (repare-se na fluźncia assindética ininterrupta dos sete primeiros
versos e no encadeamento paratáctico dos últimos seis), da energia elocutiva do
verbo e do substantivo (o adjectivo é raro, mesmo inexistente, noutras
versões), do andamento a um tempo poético e piedoso (os diminutivos cumprem uma
funćčo expressiva de grande amplitude artística e emocional) que se desprende
dos efeitos rítmicos das rimas internas (conjugadas por vezes com a assonČncia)
e finais emparelhadas, estimulantemente quebradas por dois versos brancos, das
intensas sequźncias anafóricas (vv. 3-5 e vv. 11-15), também com repercussões
no plano sonoro (por outro lado, o verso inaugural irmana-se aos trźs sequentes
através da sibilante, que erige uma ressonČncia solene, consentČnea com o
estatuto da personagem e a qualidade da acćčo), bem como de outros recursos de
natureza prosódica que uma análise micro-estilística (excrescente aqui e agora)
rapidamente evidenciaria:
S. Jerónimo se levantou,
Seu sapatinho d’ouro calćou,
Seu cacheirinho agarrou,
Seu caminho caminhou.
Deus Nosso Senhor o encontrou.
– Onde vais, S. Jerónimo?
– Vou espalhar esta trovoada
Que por cima de nós anda armada.
– Espalha-a lá para bem longe,
Para onde nčo haja pčo nem vinho,
Nem flor de rosmaninho,
Nem eira nem beira,
Nem raminho de oliveira,
Nem gadelhinho de lč,
Nem alminha cristč.[43]
No contexto
operacional autonomizado pela voz, a palavra dita, fixada na voragem do tempo,
num lugar situado entre o visível e o invisível, nčo pode ser rasurada da
perpétua efemeridade que a alberga. “Verba manent”, portanto, numa reescrita da
máxima latina sobre a permanźncia dos “escritos” e dos “ditos”, sugerida pelo
eco perseverante destas práticas poéticas de ligaćčo (na acepćčo religiosa do
termo). Conforme
escreve Denys Thompson, “Poetry was developed because it was needed, as an art
in which words do more than just make statements; and the way in which we
metaphorically speak of enchantment is a survival from a time when poetry was
practical and purposeful”.[44]
Descobrimos
(ou redescobrimos), nas páginas destes livros, ordenados pela sabedoria de quem
reconhece nestes activos simbólicos e nesta literatura virtualidades por
sondar, dois pensadores sistemáticos e metódicos que nos conduzem por
vertiginosos cursos culturais que o nosso tempo ainda nčo compreendeu nem
abandonou na totalidade. É sóbrio e alentado o entusiasmo (e o inconformismo
intelectual) com que estes autores tratam os objectos em estudo e contagiante a
energia que provém da agudeza e da pertinźncia das suas análises finas e
transparentes. As suas focagens, numa perspectivaćčo teórico-metodológica
fundeada em novos ou (re)descobertos materiais e métodos renovados, acarretam
abalos que vźm animar o progressivo grau de legitimaćčo de uma literatura
tradicionalmente sancionada pelas malhas estreitas da ortodoxa clivagem
literário/nčo-literário.